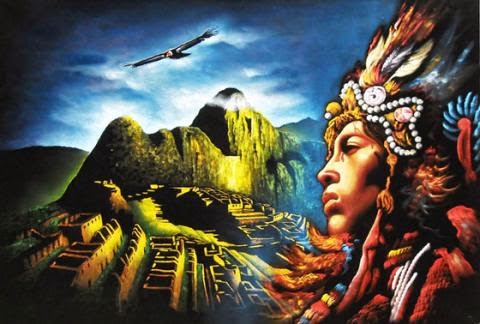Uma banda que
carrega em sua música influências e referências políticas, sociais e
religiosas, fazendo um enfrentamento ao racismo e trazendo um continente
ancestral ao palco
Por Igor Carvalho,Da
Revista Fórum
Eles poderiam ser
personagens centrais da profecia do poeta Walner Danziger, no ótimo e
importante poema “Eles não usam black power”, que usa de ironia ao apresentar a
figura estigmatizada do negro como “macaco” para narrar a tomada de poder pelo
povo de Zumbi. Quando pisam no palco e principiam a bater uma palma da mão na
outra, ritmando o início de sua revolução particular, a banda Aláfia “borra de
sangue a toalha de linho em desalinho”, como escreveu Danziger. No palco, o
grupo está acompanhado pelos seus ancestrais, que ajudam a formar o ideal
“alafiano”, sempre se esquivando do que chamam de “África teórica”, ou o
folclore que torna a cultura africana um produto exótico, a ser consumido. “É
uma apropriação sem modismo”, explica Alysson Bruno, um dos integrantes da
trupe.
Em cada
apresentação, também estão presentes os Douglas e Amarildos, as vítimas dos
“tiros acidentais” e do “genocídio da população negra no Brasil”. “Essas últimas
notícias de 30 mil negros assassinados, esses levantamentos, isso é igual ao
Carandiru, 111 mortos. Foi muito mais. Mas, muito maior que o número é o medo,
o terror, o temor que a gente tem da polícia. Isso tá no nosso dia a dia”,
afirma Eduardo Brechó, que compõe o trio de vocais do Aláfia com a “libélula de
Ébano” Xênia França e o teatral Jairo Pereira. Ao todo, são dez músicos: Pipo
Pegoraro (guitarra), Alysson Bruno (percussão), Gil Duarte (trombone), Gabriel
Catanzaro (baixo), Henrique Gomide (piano), Lucas Cirillo (gaita) e Filipe
Vedolim (bateria), além dos vocalistas.
A banda existe há
três anos, porém, o primeiro disco, Aláfia(YB Music) veio
recentemente. O lançamento foi no Sesc Pompeia, em São Paulo, em 10 de setembro
de 2013. Os ingressos se esgotaram e muita gente ficou do lado de fora, sem
conseguir ver a apresentação. O sucesso se ampara no trabalho realizado pelo
grupo, que antes de lançar o disco já havia se apresentado em diversos lugares,
conquistando ouvintes que aguardavam o resultado daquela “conspiração”.
No estatuto do
grupo, desde o princípio, ficaram claros os pilares ideológicos que norteariam
sua atuação, como a preocupação com os elementos africanos. “A gente gosta de
algo do tipo: ‘Tá vendo esse congo de ouro que tá nesse pancadão’. Mas o congo
de ouro não apareceu no Google, ele vem da nossa vivência. A luta racial carece
da afirmação racial, mas para longe dessa África teórica, sem esse olhar
idealizado”, afirma Brechó. E o zelo com questões sociais passa diretamente
pela discussão a respeito da violência policial, como explica um dos vocalistas
e fundadores da banda, Brechó. “A gente é a favor da desmilitarização, mas não
é só falar que a gente é a favor disso. A gente é contra a Polícia Militar,
certo? Assim como eles são contra a gente, naturalmente. Quando eu era
adolescente, jovem, a polícia era contra a gente sem eu nem saber qual era a
situação.”
A religião, assim
como o preconceito, também são temáticas constantes da obra do Aláfia. “Nosso
combate não é à intolerância religiosa, é ao racismo. Porque o que demoniza a
nossa religião é o racismo. É diferente se houver um sacrifício, como Jesus foi
sacrificado, feito pela ‘religião branca’, um modo meio escroto de falar, mas
que remete aos termos de poder que mantêm essa religião no Brasil”, sentencia
Jairo Pereira.
A fusão dos
elementos históricos, religiosos, políticos e sociais com a musicalidade que
respeita a tradição da música negra, unindo os batuques dos tambores do
candomblé, o jazz, o funk, o hip-hop e o soul criou uma estética musical que
ainda fará muito crítico e articulista se perder. A direção do show é de
Estrela D’Alva, e quem sempre aparece nos espetáculos são os poetas Akins Kinte
e Lews Barbosa, que, ao lado de Lurdez da Luz, participam do disco.
Jairo Pereira
assina a erotizada “Chicabum”. As outras nove músicas do disco são de autoria
de Eduardo Brechó, sozinho ou com a participação de outros, entre elas, “Mulher
da costa”, que abre o CD. Na música, a mulher da costa, que “vem do Gana, não
se engana” e “diverge de [Pierre] Verger” (etnólogo francês que estudou
a África em diversos aspectos), pergunta: “Quem pratica a África?”. O Aláfia
usa a canção também para questionar a aplicação da Lei no 10.639 no Brasil, que
trata do ensino da cultura africana nas escolas. Confira a entrevista abaixo.
Fórum – De onde
vocês são?
Eduardo Brechó – Aqui tem migrante pra caramba. Sou de Ribeirão Preto, o Jairo é
de Suzano, a Xênia é baiana, o Pipo é do Rio Pequeno [bairro da zona oeste
de São Paulo], o Gil é cearense, o Cirillo é da zona sul, Gabiru é da Lapa
[zona oeste paulistana] e o Fernando é de São Miguel [zona leste de
São Paulo], o Alysson também é da zona sul. Tudo migrante, ninguém é do
centro.
Fórum – E essa
conexão com a periferia e os movimentos culturais e sociais de São Paulo, vem
de onde?
Eduardo Brechó – Acho que tem a ver com a formação. Não somos exatamente de uma
quebrada específica, mas estamos ligados na cultura das quebradas, que colabora
para a construção da identidade desse indivíduo que é o Aláfia.
Fórum – O que
significa Aláfia?
Eduardo Brechó – Significa caminhos abertos.
Alysson Bruno – A gente pode dizer, usando o nome de uma outra música nossa, que
é quando o destino está em punga a favor do desejo. Isso é Aláfia, uma palavra
de confirmação, significa “vai dar certo”. Plenitude.
Fórum – A banda tem
três anos, e o disco foi lançado há dois meses. Muita gente já se perdeu ou
está se perdendo tentando identificar o que é o som do Aláfia?
– Sim! [Coro]
Eduardo Brechó – Identificar todo mundo identifica, mas não
classificam. Identificação é a coisa mais fácil no som do Aláfia, porque temos
referências inúmeras. Então, as pessoas identificam coisas diferentes ali, é um
triunfo pra gente.
Fórum – Mas vocês
tentam classificar?
Pipo Pegoraro – Acho que não. Não precisa, né? A gente não tenta classificar
porque isso acaba reduzindo. As pessoas perguntam qual é o gênero, mas você
tenta se explicar e dar uma definição, e depois ficamos pensando: “não tem nada
a ver o que eu falei”. Ou então faltou isso ou aquilo.
Jairo Pereira – A definição mais legal é de uma reportagem numa rádio inglesa e
o cara falou “funk candomblé”. No fim das contas, tem reggae, afrobeat, funk,
soul. Tem tudo, tem regional…
Fórum – E novas
tecnologias ajudaram também a difundir o nome da Aláfia nas redes.
Eduardo Brechó – Sim. O primeiro show do Aláfia no “Bar B” [10 de novembro de
2011] se deu por isso. A gente nem existia. Não existia um show, não éramos
uma banda que se apresentava. A gente divulgou pra caramba esse show nas redes
sociais. Sabiam que a gente estava conspirando e que queríamos algo. Divulgamos
em um mês, e o show foi cheio. A partir daquilo, a gente continua trampando nas
redes, funcionou. Aquele show virou uma temporada, e nessa temporada veio o
ímpeto de gravar um disco. No mesmo ano em que a gente se uniu, já partimos
para gravar o disco.
Fórum – E vocês já
tinham as canções?
Eduardo Brechó – Já. Quer dizer, mais ou menos. A gente trampava em algumas
dessas reuniões que fazíamos no início, às quartas-feiras, e aí fomos fazendo
outras e formando o repertório do Aláfia. Já tinha um apanhado de canções,
fomos nos entendendo como banda, né? O caminho fez a gente também. Naquele
momento, fomos fazendo música para interpretar nossa sonoridade. Muitas canções
que a gente acreditava na época não entraram para o repertório porque a
sonoridade da banda passou a ser outra, e começamos a pensar nas músicas a
partir dessa sonoridade, e não ao contrário. A música tem que servir para o que
é o Aláfia ou para o que o Aláfia está atingindo. Foi assim que a gente montou
o repertório.
Fórum – Vocês já
estão identificando o público?
Eduardo Brechó – Estava conversando isso com o Pipo ontem. Você ouviu na casa do
Sérgio Vaz e isso é emblemático. Existe um movimento de consumo na quebrada hoje
que está buscando novos ares também, entendeu? Além disso, a gente consegue
dialogar legal com essa galera que está olhando para a ancestralidade e para as
lutas raciais, porque olhamos para isso também. Isso está no estatuto do Aláfia
desde que foi fundado. Mas qual medida isso ia tomar, com quem a gente ia se
comunicar, nós não sabíamos exatamente.
O Aláfia se vale
muito disso, e a gente retribui à nossa medida. Está formando um circuito de
cooperação. Se você pegar, por exemplo, o som do Ba Kimbuta tem a ver com a
gente também. E não é uma coisa que a gente trampou junto, mas o laboratório é
a rua, e as ideias estão ali. Há várias expressões de periferia, e se você
frequenta sarau, vê a molecada de 17 ou 16 anos fazendo rap do jeito deles, vê
o jeito que soltam o refrão e falam coisas diferentes, se colocar um tambor,
isso influencia. É uma expressão do nosso tempo também, tem a ver com a
contemporaneidade.
Xênia França – Mas isso desde sempre também. Desde o primeiro show no “Bar B”,
as temporadas são sempre cheias, e com esse público que ele tá falando, né? A
galera que se identifica com essas questões raciais. Ontem fizemos um show que
foi o maior até agora, lá no Anhangabaú, e as pessoas estavam lá, saíram de
casa para nos ver. Tinha gente que nunca tinha ouvido falar da gente, mas tinha
uma galera que só foi lá ver a gente. Tinha gente cantando nossas músicas.
Fórum – Vocês
falaram da ancestralidade, mas mesmo com essa condição de não se classificar,
uma coisa é certa: o elemento negro e africano está ali no palco. O quanto há
de influência da música negra no som que o Aláfia faz?
Eduardo Brechó – Cara, em termos de influência, pessoalmente acho que cada um
traz a sua. A África é só teórica, está aí na sua camiseta. Então, cada um vai
trazer a sua África, porque a gente não acredita nela nesse sentido. Tipo, o
que é a África pra você? O que é o idealismo em relação a isso? Um folclore,
né? Tem um folclore envolvido, e a gente sabe que a galera está mais envolvida
com ele. E o mundo é muito grande. Seis mil anos que a gente cita não é nada.
Como diria o Rei do Camarote, é de 6 mil anos ao infinito [risos].
Pensamos profundamente, metafisicamente e sem medo essas questões raciais.
Datamos a nossa ancestralidade à medida que ela aparece, não força a barra.
Xênia França – É da maneira que se vivencia.
Eduardo Brechó – É isso. A gente gosta de algo do tipo: “Tá vendo esse congo de
ouro que tá nesse pancadão”. Mas o congo de ouro não apareceu no Google, ele
vem da nossa vivência. A luta racial carece da afirmação racial, mas para longe
dessa África teórica, sem esse olhar idealizado. Muitos irmãos nossos, quando
chegam na África, se surpreendem, são tratados até como brancos lá, por
carregar essa África teórica. Tomamos muito cuidado com esse folclore. É luta,
não é africanismo superficial.
Alysson Bruno – É uma apropriação sem modismo. Cada elemento aqui tem um
fundamento, um motivo para estar na nossa música. Em cada frase, em cada
rítmica, há uma coerência, não é só ser pretinho com cabelo para cima.
Fórum – No show que
eu vi no Rio Verde, o Jairo Pereira falou muito sobre a Lei no 10.639, antes da
música “Mulher da costa”. A música em algum momento foi pensada para a questão
da lei? E qual a importância dessa lei, que não é aplicada corretamente no
Brasil?
Eduardo Brechó – Compus a música quando trabalhava de educador no Museu Afro
Brasil. É o seguinte, desde que a lei foi criada há 10 anos, a gente trabalha
para que seja colocada em questão. Quando a luta começou, pela aplicação da
lei, estávamos envolvidos. Fomos nos entendendo e sabemos que somos a favor da
aplicação da lei. A gente trata de negritude na oficina que dou aqui [CEU
Paz] e tenta aplicar a lei. Quem colocou isso de Lei 10.639 no meio da
letra foi o Jairo.
Jairo Pereira – Fui eu, porque foi exatamente isso, quem pratica a África. A
importância que tem é sobre a compreensão da nossa base para que a gente possa
ascender em relação a nossa identidade, a nossa própria busca. É uma ideologia
básica que tenho: é necessário mastigar informação, principalmente para as
pessoas que não se alimentaram dela. E que essa informação, que foi demonizada,
possa ser transformada e mostrar para as pessoas que o demonizador está errado.
Isso é um trabalho de base. A Lei no 10.639 zela por isso. Mas, infelizmente,
quando dão uma aula de jongo, na escola escutamos que “isso é coisa do diabo e
a gente não pode ensinar isso”. Temos a nossa cultura totalmente transformada
em algo maléfico há anos, e a nossa luta é dizer carinhosamente para essas
pessoas: ‘Ei, presta atenção, isso te trouxe até aqui’. E temos um sistema que
exige pra caralho, entendeu?
Nosso combate não é
à intolerância religiosa, é ao racismo. Porque o que demoniza a nossa religião
é o racismo. É diferente se houver um sacrifício, como Jesus foi sacrificado, feito
pela “religião branca”, um modo meio escroto de falar, mas que remete aos
termos de poder que mantêm essa religião no Brasil. Tem um exemplo de Diadema,
quando fiz um trampo musicando poemas afro-brasileiros, nós montamos um livro
no EJA [Educação de Jovens e Adultos] para passar esses poemas para a
alfabetização. Alfabetização de gente de 50 anos, que queria estar vendo a
Carminha [personagem da novela “Avenida Brasil”] em casa. Chegava lá e
falava “Os tambores da noite estão te chamando”, do Max Viana, aí a pessoa
falava que não podia falar a palavra “tambores” porque é do diabo. E todo mundo
já comprava a ideia. Em uma sala de 30 alunos, 20 saíam quando ouviam a palavra
“tambor”. Então, se a gente deixar isso desse jeito, vai ter que nascer um novo
dicionário. O barato não é laico, não existe, o Brasil é religioso e o racismo
está inserido nesse tipo de detalhe. Isso atrapalha a alfabetização. As
características são totalmente negadas a todo tempo. Por exemplo, você vê uma
mulher preta de turbante na cabeça e as pessoas ainda olham de maneira estranha
e reprovam com o olhar. Ou quando não transformam isso em uma coisa exótica.
Fórum – Assim como
aconteceu com Mano Brown, Emicida, e tantos outros que se propuseram a discutir
a sociedade em que vivemos, vocês estão preparados para debater além da música?
Eduardo Brechó – Isso vai acontecer, sabemos. Mas não existe esse negócio de
“música”. O nosso fundamento não serve para a estética política, se você não
consegue definir a nossa estética, isso já vai te provocar. Isso carrega nossa
postura política naturalmente. Não é um barato que é pensado, que a gente vai
chegar ao lugar X e atingir não sei quem. Como acontece com Pedro Paulo [Mano
Brown], são questionamentos que acontecem da gente pra gente. Não é o poder
que vai vir. Isso seria um ponto muito positivo.
Jairo Pereira – Uma parada que costumo falar é a “arte de embate”. Já está
inserida na arte a consciência política. Essa conexão que você tem com o mundo
e com as pessoas. Essa arte de maneira transformadora já traz isso, já está na
essência. Qualquer coisa que vier falar, a gente vai dar nosso posicionamento e
o nosso ponto de vista em relação a isso. Não tenho a preocupação de quem eu
possa incomodar. Se posso incomodar a polícia, se posso incomodar o Danilo
Gentili, ou quem for. Porque quem estiver jogando contra, não está jogando a
favor.
Fórum – Quero falar
com vocês sobre a violência policial. Qual a postura de vocês em relação a
esses tiros “acidentais”?
Jairo Pereira – Fiz uma performance na Oscar Freire que se chamava “Os
Mendonças”, junto com a artista Juliana Notari, e a intenção era fazer essa
denúncia do genocídio da população negra. Não adianta falar que são só os
jovens. Os jovens também, mas é a população negra. Quando você fala dos jovens,
você só especifica.
Fui pra lá
exatamente pra fazer esses mascarados representando esse poder de opressão que
já vem da família dos bandeirantes. Os Mendonças são essas famílias dos
bandeirantes que ainda representam o poder. E que também é a família de André
Furtado de Mendonça, que é o cara que degolou Zumbi. Foi pra dizer que isso
ainda continua, a gente ainda tem os Mendonças degolando a gente. Fui pra Oscar
Freire, na rua mais luxuosa do mundo. Era uma performance artística e estava na
cara que era uma performance artística, pessoas com câmera filmando. Estava
revendo e tem um take em que passo de olhos vendados ao lado
de uma mulher, e o que a mulher faz? Ela gruda na bolsa. Fui levar o lixo pra
eles, porque é o lixo que eles fazem e jogam na periferia, só jogam nos cantos.
A gente foi jogar na porta deles. Sabe o que aconteceu? Eles não tinham coragem
de olhar. Isso está no vídeo. As pessoas nem olhavam para os lados. E, no
período que a gente esteve lá, a polícia passava toda hora e não olhava na minha
cara. Isso está acontecendo, e todo mundo sabe que está acontecendo, mas são
essas pessoas formadoras de opinião, que mantêm o poder, que não querem dar a
cara pra isso. Essa força tem que se constituir no nosso povo, a gente tem que
emergir disso. Porque isso está matando a gente.
Xênia França – Há muito tempo.
Eduardo Brechó – E não é só superficialmente falando, não. A gente é a favor da
desmilitarização, mas não é só falar que é a favor disso. A gente é contra a
Polícia Militar, certo? Assim como eles são contra a gente, naturalmente. E não
é porque a gente começou com o Aláfia. Quando eu era adolescente, jovem, a
polícia era contra a gente sem eu nem saber qual era a situação. No dia da
estreia do Aláfia no Sesc Pompeia, tomei um enquadro, fui esculachado. Então,
isso é latente, está acontecendo. Acontece no nosso dia a dia, e a gente não
gosta. Simplesmente assim.
Não dá pra você ser
feminista e casar com um machista. Não dá pra você ser negro e casar com um
racista sendo consciente dessa situação. É o que acontece. Não vamos nos casar
com um sistema que nos rebaixa e nos oprime. Somos conscientes disso e sabemos
que a gente tem que espalhar essa informação. Essas últimas notícias de 30 mil
negros assassinados, esses levantamentos, isso é igual ao Carandiru, 111
mortos. Foi muito mais. Mas muito maior que o número é o medo, o terror, o
temor que a gente tem da polícia. Isso tá no nosso dia a dia.
Jairo Pereira – É exatamente por isso que precisamos da Lei no 10.639, pois ela
nos deixará contar a nossa própria história, e não deixa só quem faz esses
levantamentos de 30 mil contar.
Fórum – Vocês
colocaram o funk no show. Queria saber de que forma vocês veem o preconceito
com o funk e o melody no Pará, e tantos outros que surgem na periferia do
Brasil.
Eduardo Brechó – A gente usa aguerê e congo de ouro, entendeu? Usa um monte de
coisa que são ritmos que conhecemos, isso vem lá de trás, não inventamos nada,
é ancestral. O funk também é essa união de elementos. Você vai no pancadão e
dança música instrumental. Quanto tempo que eu não via gente dançar música
instrumental no baile? O cara fica lá “tum tchatcha” [ritmo de funk] e
os moleques ficam dançando, não precisa estar falando alguma coisa. Muitos
dizem que a música instrumental no Brasil não faz sucesso, mas é porque não
frequentam pancadão. Então, a música comunica dessa maneira ancestral. Qual era
a pergunta? [risos].
Fórum – Preconceito
com músicas das periferias do Brasil.
Eduardo Brechó – No lançamento da campanha “Eu pareço suspeito?”, tinha um workshop
falando sobre isso. Eu e o Akins [Kintê] levamos pra Fundação Casa
falando da perseguição do gênero do samba, e falando para os moleques que eram
envolvidos com o funk como quem estava sendo perseguido não era o gênero, era o
pessoal, é o povo, é o negro. Porque o roqueiro branco falava de suruba e usar
droga e continua na garagem fazendo rock.
Alysson Bruno – Vira rei.
Eduardo Brechó – O que está sendo perseguido é o povo, e isso não é de hoje. Isso
é do samba, foi com o rap, é com o forró também. Porque esse negócio de
etiquetar como “brega”…
Fórum – Vou
perguntar sobre uma música específica, sei que teve participação de mais gente.
A música “Ela é favela”. Podemos falar dela?
Eduardo Brechó – “Ela é favela” é o seguinte: Fiz o refrão no final de um relacionamento.
A outra pessoa com quem eu estava não era favela, e o fato de a nova moça ser
fez toda a diferença. Música de amor, né? Na época, fiz o refrão e a primeira
parte, e chamei a Lurdez [da Luz] para fazer a segunda parte.
Xênia França – Ela ficava girando, não tinha forma. E, um dia, a gente estava
junto, na casa da Vila Madalena onde começamos o processo, de noite já. Aí
rolou o refrão, e lá da cozinha, no café, fiz o “larárárárá” e rolou.
Eduardo Brechó – Aí a Xênia fez a parte final dessa melodia, que é a parte que
ela canta. Isso é importante porque funda o Aláfia. Foi a primeira música que a
gente gravou, a primeira música que lançou. Mudamos essa primeira música
algumas vezes.
Fórum – Eu lia a
letra de “Ela é favela” e jurava que você estava falando da favela. Vi a pipa
subindo na favela.
Gabriel Catanzaro – Eu também achava na primeira vez que ouvi [risos]
http://www.brasildefato.com.br/node/27262
29/01/2014